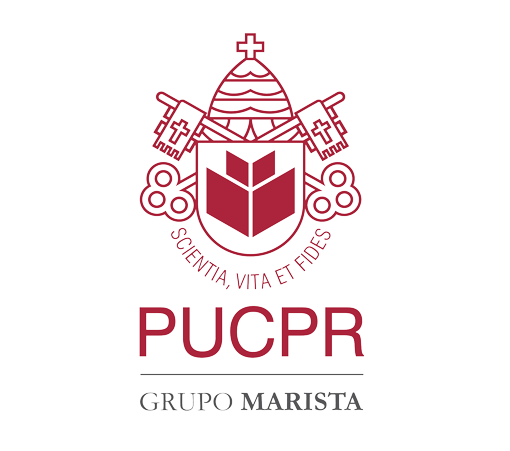Danielly de Sousa Nóbrega possui Graduação em Ciências da Natureza e Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática pela Universidade Federal do Acre (UFAC) e Doutorado em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR). Atua como professora de EBTT de Química no Instituto Federal do Acre (IFAC). Suas pesquisas enfocam as seguintes áreas: Ciências, Tecnologias e Sociedade; Saberes da Tradição; Representações Sociais; Formação Docente e Ensino de Ciências e Química. É partícipe dos grupos de pesquisa em Políticas, Formação do Professor, Trabalho Docente e Representações Sociais (PORFORS); Grupo de Pesquisa Criatividade e Inovação Docente no Ensino Superior (Cides) e Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Formação de Professores que Ensinam Ciências e Matemática (FORPROCIM).
Saberes de tradição
Danielly ressaltou em sua fala como os saberes de tradição representam um patrimônio cultural e científico a ser considerado e preservado. Sempre transmitidos de uma geração à outra, esses conhecimentos são fundamentais para a identidade de diversas comunidades; entretanto, são frequentemente ocultos e negligenciados por não enquadrarem na categoria de ciência. Assim, a docente desenvolveu investigações na reserva extrativista Chico Mendes, no Acre, e lá pôde observar como seringueiros, castanheiros e outros trabalhadores utilizam práticas antigas, como a retirada de látex e a extração de óleo de copaíba. Tais saberes não apenas garantem a economia de subsistência, mas também preservam uma sabedoria secular que, quando ignorada, se perde ao longo da história.
Além disso, salientou que a cada ancião perdido, morre uma biblioteca viva, enfatizando, assim, a importância de aplicar esse conteúdo no espaço da escolha. Por conta disso, a professora acredita que integrar os saberes tradicionais ao espaço da sala de aula é resgatar, de fato, esses povos subalternados. Para ela, esse saber não só amplia o currículo, mas também mostra ao aluno a diversidade de áreas e nichos e quão eloquente a ciência pode ser. Ela acredita que trabalhar com os saberes de tradição não é apenas a dinâmica necessária para manter viva a memória de práticas antigas, mas também o respeito à diversidade cultural e social e à construção de cidadãos críticos e respeitosos.
Transdisciplinaridade
Ao trazer os saberes de tradição, Danielly também destacou uma rota para a transdisciplinaridade como forma de integrar as diferentes áreas do conhecimento em torno do ensino prático e significativo. Sua vivência no seringal a fez perceber como tópicos aparentemente distantes, como linguagem, química, matemática e geografia, convergiriam diante da análise de sua situação local; por exemplo, o corte das seringueiras ou a coleta de látex. Mesmo o simples corte com ângulo de 45 graus para facilitar a drenagem do líquido envolveria matemática e física, assim como o estudo das propriedades do látex ou sua utilização industrial conectaria a química à história e economia.
A transdisciplinaridade nessa perspectiva, alimentada pelos saberes de tradição, potencializa sua visão de formação acadêmica, que consiste em criar conexões entre disciplinas e as vivências de estudantes na produção de novas possibilidades. Seguindo essa ideia, a docente integrou distintos componentes curriculares em torno da cadeia produtiva do látex, partindo da extração nas comunidades até a realização de atividades que abordavam a cadeia produtiva industrial final, como ocorre na produção de preservativos. A professora também emprega metodologias como jogos, visitas a museus e estudos de caso, sempre conectados com história, biologia, química e cultura regional, sempre procurando adaptar a abordagem para a realidade de cada turma.
Metodologias ativas
Para Danielly, a sala de aula perfeita é aquela que é dinâmica, criativa e que se transforma para atender às necessidades de seus estudantes. A professora evita carteiras enfileiradas e frequentemente prefere que os alunos trabalhem em círculos ou fora da sala. Suas atividades envolvem brincadeiras, como a construção de moléculas com jujubas e palitos, para que os alunos consigam lidar com conceitos abstratos e às vezes complexos de modo lúdico e palpável.
Durante uma atividade temática no carnaval, usou máscaras e luzes para introduzir o conceito de química orgânica, conectando o tema com o cotidiano dos alunos por meio da maquiagem e dos adereços carnavalescos. Tais estratégias fazem com que os alunos assimilem os conceitos de forma lúdica e prazerosa. Ao manipularem jujubas e argila, os futuros professores são inspirados a desenvolverem abordagens simples e possíveis de serem aplicadas nas escolas. Por meio de práticas, a docente favorece a absorção de conhecimento e a prepara os estudantes para ensinarem esses conteúdos em suas futuras salas de aula.
Socialização de saberes prévios
Ao longo de sua fala, a professora destacou a importância de valorizar e socializar os saberes tradicionais, que são passados de geração para geração, muitas vezes sem o reconhecimento de sua relevância científica. Ela explica que, ao trazer esses saberes para o ambiente acadêmico, é possível estabelecer um diálogo entre o conhecimento formal e o conhecimento popular, como no caso de sua pesquisa com as comunidades extrativistas do Acre. Através dessa integração, ela busca quebrar estigmas e mostrar aos estudantes que seus conhecimentos prévios sobre práticas como a extração do látex ou o uso de plantas medicinais são, de fato, ciência. Esse processo de socialização de saberes permite que os alunos, especialmente aqueles de comunidades tradicionais, entendam o valor de suas experiências e passaem a se orgulhar de sua origem, promovendo a troca entre o saber acadêmico e o saber comunitário.
Além disso, Danielly relata que essa troca de saberes acontece não apenas na pesquisa, mas também na formação dos professores. Ao trabalhar com estudantes em cursos de licenciatura, especialmente no campo da Química, ela propõe integrar os saberes de tradição ao currículo, utilizando exemplos práticos das comunidades para ensinar conceitos científicos. Ela destaca que isso é possível por meio de experiências práticas, como a medição do ângulo de corte de seringueiras ou a extração de látex, que unem disciplinas como biologia, matemática e química. A professora também exemplifica como, ao integrar saberes tradicionais ao processo educativo, é possível transformar a visão dos estudantes sobre sua própria história, promovendo um aprendizado mais significativo e relacionado à realidade local.
Ambientes de aprendizagem não formais
Além da sala de aula, a docente também valoriza os espaços informais de aprendizado, como museus extrativistas e bairros tradicionais, onde a aprendizagem é muito mais abrangente do que o espaço escolar. Durante a visita a uma estrada de seringa, seus alunos puderam experimentar a rotina dos extrativistas, observar as espécies nativas e compreender a relação entre cultura, biologia e química. Essa imersão possibilitou aos estudantes associar o conhecimento acadêmico à realidade local, transformando o aprendizado em experiência “mão na massa”. Danielly destaca, portanto, que essa metodologia enriquece o aprendizado, aproxima os estudantes do contexto vivido pelas comunidades tradicionais e reitera a importância de unir acadêmico e experiencial.
SAIBA MAIS
Silva, M. R. F.; Mendes, F. F. F. CULTURA E SABERES DA TRADIÇÃO: UM OLHAR SOBRE A DIVERSIDADE DO MUNDO. Revista Extendere, v.3, n.2, 2025, p.9-23. Disponível em: https://periodicos.apps.uern.br/index.php/EXT/article/download/4147/3231. Acesso em: 2 nov. 2024.
Almeida, Maria da Conceição de. Complexidade, saberes científicos, saberes da tradição.2. Ed. e ampl. -São Paulo: Editora Livraria da Física, 2017.
Jantsch, Erich. “Inter- and transdisciplinary university: A systems approach to education and innovation.” Higher Education 1 (1947): 7-37. Disponível em: https://link.springer.com/article/10.1007/BF01956879. Acesso em: 2 nov. 2024.
Manfred A. Max-Neef, Foundations of transdisciplinarity, Ecological Economics, Volume 53, Issue 1, 2005, Pages 5-16, ISSN 0921-8009, https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2005.01.014. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921800905000273. Acesso em: 2 nov. 2024.
MOREIRA, Joelma Lima; OLIVEIRA, Jussara de Fátima Alves Campos. A Educação em ambientes não escolares: um relato de experiência. Revista Educação Pública, Rio de Janeiro, v. 22, nº 31, 23 de agosto de 2022. Disponível em: https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/22/31/a-educacao-em-ambientes-nao-escolares-um-relato-de-experiencia. Acesso em: 2 nov. 2024.
Johnson, M., Majewska, D. What is non-formal learning (and how do we know it when we see it)? A pilot study report. Discov Educ 3, 148 (2024). https://doi.org/10.1007/s44217-024-00255-y. Disponível em: https://link.springer.com/article/10.1007/s44217-024-00255-y. Acesso em: 2 nov. 2024.